

Emmet Gowin
“Edith”, Danville, Virgínia, 1970
“Family”, Danville, Virgínia, 1970


Harry Callahan
“Eleanor and Barbara”, Chicago, 1953
“Eleanor”, Chicago, 1953
Há ideias incorpóreas de arte que vagueiam anos a fio pelos fluidos turvos do nosso espírito. Imateriais permanecem, ou porque não encontramos a chave para as transmutar, agregando os seus aspectos dispersos em forma consciente para o “mundo real”, ou simplesmente porque nunca procurámos/construímos essa chave e nos mantivemos atávicos sem o querer-alavanca que as fizesse emergir do lugar incerto onde habitam. Nestas condições encontro a ideia de fazer arte partindo do que me é mais próximo, ideia que, confesso, sempre me agradou. Se ao falar de matéria falar de coisa física, com massa, afirmo que usei radicalmente o que encontrava “mais à mão” para fazer arte (umas vezes com resultados felizes mas quase sempre de forma desastrosa). Se, ao invés, ao falar de matéria falar do campo das ideias, da “temática”, apenas esbocei pouco convictamente umas coisas fracas e tímidas, até porque o empenho, por medo da seriedade destes assuntos, foi sempre pouco. Os “tijolos” das obras serem aspectos íntimos do meu quotidiano é uma ideia que me fascina desde que sei da existência de Picasso, autor de notabilíssimas obras, ao longo de décadas, nas quais um número reduzido de elementos do seu dia-a-dia, associados, constituíram um meio inesgotável para fazer arte: uma mulher (modelo mas mulher que partilha a habitação com o artista), um espaço (a casa mas, sobretudo, o atelier do artista), o artista e, finalmente, a arena da arte, lugar onde tudo isto é posto em confronto e lugar que se confronta consigo mesmo enquanto lugar que se auto define (os materiais da pintura, telas, papeis, tintas, História da Arte).
Outro meio que tanto se presta à arte cuja fonte de poesia jorra directamente dos espaços e pessoas que nos são familiares, é o meio fotográfico. Tomando o quotidiano como ponto de partida a fotografia, ao dar-nos a ver de novo o que os nossos olhos viram mas de imediato perderam, confere à sensação visual efémera uma perenidade selecta que dificilmente se livra de vacilar na linha de fronteira entre o olhar que reporta e o olhar que transcende.
DOIS FOTÓGRAFOS – EMMET GOWIN E HARRY CALLAHAN
No livro “Emmet Gowin: Photographs” o autor refere-se às fotografias que realizou como «um dever natural que honre aqueles que ama». Desde logo ficamos a saber que o seu compromisso não é com o “mundo da arte”, a sua arte é antes uma dádiva aos seus entes queridos. Diz que as fotografias presentes no livro são parte do seu dia-a-dia e não resultam de projectos ou encomendas. Elogia os snapshots e as fotografias dos álbuns de família como sendo das fontes de imagens mais ricas que conhece. É evidente que a sua arte vai além da recordação de família essa demanda reside no penetrar, através da arte, fundo nas noções de identidade e de sentimento de pertença (aos lugares e aos entes queridos). Mostrando universos íntimos, logo quando da escolha do enquadramento e composição da imagem antes da fixar, esta vai adquirindo peso simbólico que na imagem se manifesta com forte emoção, entrega apaixonada e espanto perante a vida. Na reflexão sobre si mesmo e sobre a sua condição existencial, o artista extravasa para aspectos essenciais à existência humana, imprimindo à sua experiência pessoal, através da arte, contornos universais. Para além destas evidências conclui-se que o simbolismo destas fotografias “familiares” de Gowin resulta também, em parte, da técnica fotográfica usada. Não que a técnica por si só tenha algum valor artístico, porque só quando surge perante os nossos olhos tão intrincada nas formas e nos conteúdos que seria impossível imaginarmos a obra que observamos configurada de outra maneira, é que se torna digna de registo e admiração. No caso destas fotografias trata-se do efeito de distorção circular exagerado que uma lente Angulon para câmara de pequeno formato faz quando associada a uma câmara Eastman View 8x10. Li algures a opinião de alguém (não sei quem) que classificava a estética destas fotografias de “gótica”. Não é essa a palavra que me ocorre. Ocorre-me sim a palavra “expressionista”.
O processo de trabalho usado por Harry Callahan para a conformação da sua arte era, aparentemente, simples e rotineiro: sair de casa quase todos os dias de manhã com equipamento fotográfico, caminhar pela cidade e fotografar. À tarde fazia diversas provas dos que considerava serem os melhores negativos. Deste trabalho sistemático seleccionava pouquíssimas imagens finais. Um método o qual, simplificando, caracterizaria como “coleccionismo e escolha”. Em arte significará o mesmo que procura persistente, análise detalhada e profunda reflexão. As fotografias de Callahan possuem um forte sentido de volume e composição, tomando linha, luz e sombra o protagonismo. Nas imagens mais conhecidas do autor podemos ver a sua mulher e/ou a sua filha, Eleanor e Barbara, em espaços interiores e exteriores, urbanos ou naturais. Ocupe a maioria do quadro ou apresente-se longínqua é a figura humana que cativa de imediato o olhar porque surge sempre do mistério da luz e da sombra. O jogo que presenciamos quando olhamos para estas fotgrafias é bastante complexo. Por um lado, fazendo as pessoas e os lugares parte do quotidiano do artista, em momento algum podemos afirmar que se tratam de retratos – não são representações da personalidade ou dos traços fisionómico psicológicos das pessoas representadas – nem tão-pouco de descrições espaciais de um lugar, do captar do seu genius loci (embora em outras fotografias de Callahan o genius loci esteja bastante presente). No que à representação espacial diz respeito verifica-se inclusive que estas imagens estão longe de cair na tentação que os dedos dos fotógrafos têm habitualmente por pressionar o botão de disparo da câmara perante motivos de imaginários exóticos ou pitorescos. Callahan, ao tomar como matéria da sua arte espaços e pessoas que definiam o seu quotidiano, não procurou mostrar como são, quem são, ou o que são. A sua poética tende para a abstracção, embora atendendo a quão subtil pode ser a natureza dos símbolos. Por outro lado afirmaria que, sabendo que o autor partiu de um persistente trabalho de recolha, o momento chave da análise dessas imagens terá sido o da descoberta dos signos ou dos significados latentes. Excluindo algumas imagens onde é mais evidente uma encenação criada antes do disparo para obter um determinado efeito, perante outras aparentemente mais espontâneas apetece-me exclamar «E, subitamente, a arte perante os meus olhos!». Terá o autor experimentado uma sensação semelhante ao ver algumas das imagens que ele próprio recolheu? É uma pergunta pouco relevante, pois as imagens aí estão como são e como as vejo, mas provavelmente a resposta é sim. Admitamos então que Callahan, de facto, descobria a arte e a poesia do modo aqui descrito: não penso que a maioria destas imagens tenha sido trabalhada a priori de forma fria e meticulosa, nem tão pouco que tenha sido obtida durante qualquer espécie de devaneio ou arrebatamento sentimental. Penso sim que resultaram de uma atitude expectante, atenta, embrenhada serenamente na crença de que o ambiente perante os próprios olhos é propício a que as coisas aconteçam, não sabendo bem como antes de acontecerem. É possível interpretar estas imagens tentando perscrutar símbolos precisos que poderiam corresponder a factos ou sentimentos relativos à relação do autor com Eleanor e Barbara. Naturalmente Callahan usou esses meios, reflectindo sobre si próprio, transpondo posteriormente a reflexão para os ambientes e pessoas presentes nas fotografias. É assim que se constrói obra. Mas acima de tudo há aqui o fazer arte colocando em confronto na arena da técnica fotográfica seres humanos, espaços interiores e exteriores, objectos, luz e sombra, conseguindo revelar ao relacionar as ínfimas percepções., mais do que a «boa fotografia» a poesia fundada na subtileza e na serenidade.
Curiosamente, ao fazer a minha pequena pesquisa para a elaboração deste texto e já durante a sua redacção, tomei conhecimento de que Gowin foi aluno de Callahan na Rhode Island School of Design, E.U.A. A associação que inicialmente fiz entre os dois artistas-fotógrafos deveu-se apenas à correspondência de dois nomes a dois conjuntos de imagens que espelham resultados diferentes, até mesmo opostos, no tomar da mesma matéria para fazer arte, neste caso, o quotidiano. Não deixa de ser interessante constatar esta outra proximidade entre ambos.
Ter-se-á tornado evidente aos leitores dos meus textos (que os deve haver apesar de em reduzido número) que ao escrever sobre arte a caneta me foge para uma abordagem bastante restrita sobre o que considero arte e que, à partida, rejeita muito daquilo a que hoje se chama “produção”, “mercado” ou, aplicado ao comércio de derivados da música e do cinema, “indústria”. Só muito raramente percepciono arte nestes meios e é esta pura sinceridade, com a qual tento expor por palavras escritas o que sinto e o que penso sobre estes assuntos, que procuro também encontrar nas obras dos artistas. Acredito profundamente que a única resposta que estes podem dar em contraponto à confusão que o comércio de objectos e a indústria do entretenimento estabelecem em redor da arte é serem genuínos e corajosos na manifestação da sua visão do mundo. Os dois artistas-fotógrafos cujas obras (parte delas) eu tentei aqui resumidamente interpretar à luz da minha sensibilidade e modo de racionalizar as coisas, tomaram como matéria de arte a intimidade de factos que aconteceram (provocados ou não) perante o seu olhar. Julgo que se tratam de dois bons exemplos, complementares, da temática deste texto posta em prática – partindo com meios simples do mesmo tipo de matéria que pulsa, viva, chegam a lugares muito diferentes na forma, pois diferentes são os homens.
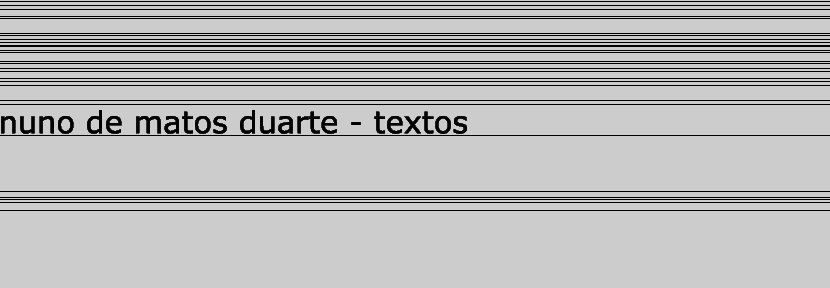

Sem comentários:
Enviar um comentário