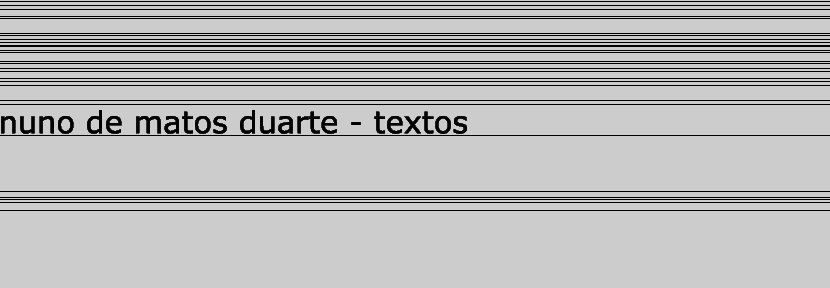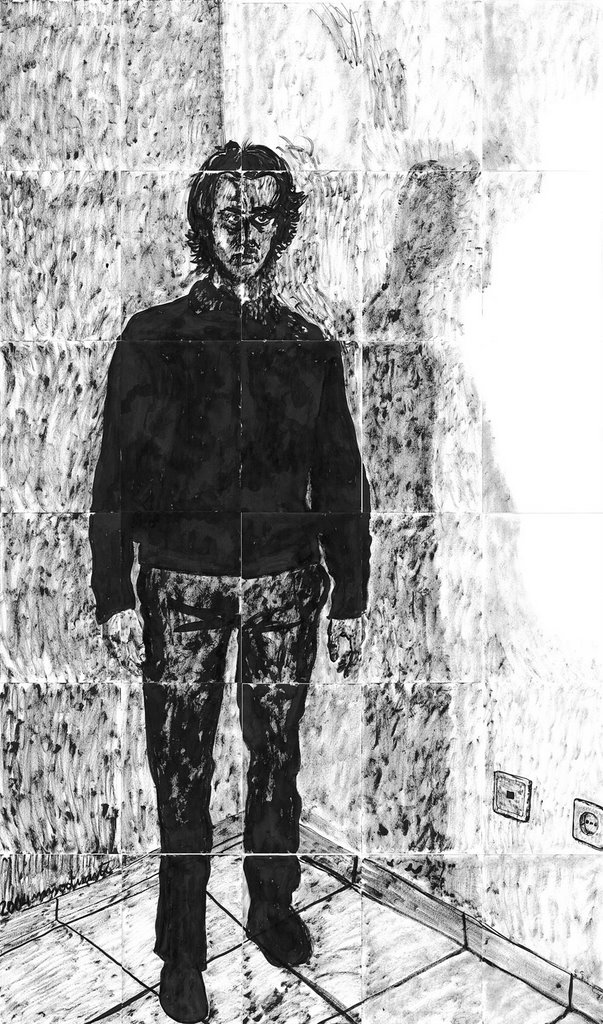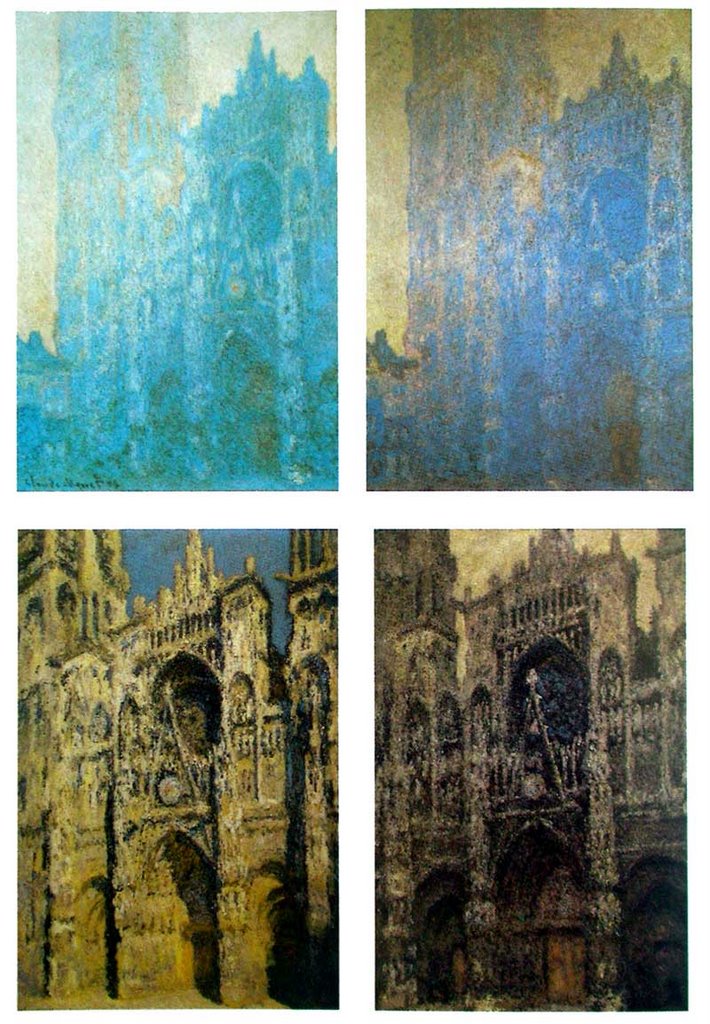“Cabeça de Medusa”
60x55cm
Galleria degli Uffizi, Florença
A LENDA:
Perseu era filho de Zeus e Danae. O Rei de Acrisius, pai de Danae, temendo a profecia que anunciava a sua morte às mãos do neto, abandonou Perseu e sua mãe no mar. Os dois vaguearam até serem finalmente recolhidos pelo Rei de Serifo, Polidectes, que acabou mais tarde por se apaixonar por Danae. Incapaz de se aproximar dela porque Perseu era irredutível na protecção à mãe, Polidectes decidiu livrar-se do filho da amada, incumbindo-o de uma impossível demanda – decapitar Medusa e trazer a sua cabeça. Escondido por detrás de um escudo espelhado e munido de outros objectos mágicos, Perseu protegeu-se do olhar terrífico e mortal ao mesmo tempo que o devolvia em reflexo a Medusa, decapitando-a no exacto momento em que ela contemplou o horror da sua própria figura, o horror da sua própria morte.
Face à lenda, Medusa representa o absolutamente inacessível, dado não ser possível vê-la sem morrer. Encarar Medusa seria ver a própria morte e morrer nesse exacto instante, quando o próprio corpo se fixa eternizando o seu esgar de espanto e horror em pedra, para sempre.
A OBRA:
A “Cabeça de Medusa” de Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, transporta a representação escultural e pictórica de cenas mitológicas (ou bíblicas) a um plano nada comum. A composição da obra é económica, clara, reduzindo formalmente o instante decisivo da narrativa aos elementos estritamente necessários. Inquietante e muito densa nos recursos artísticos e no jogo psicológico que propõe, “Cabeça de Medusa” não é apenas uma pintura, mas também um objecto, o objecto chave para o qual todos os acontecimentos narrados pela lenda confluem, o objecto chave que soluciona a trama e a faz explodir de significado: a obra é o escudo espelhado, côncavo, no qual Medusa vê a sua própria imagem; é arte directa, despida de adereços, adornos, anexos e redundâncias. A obra é o escudo espelhado a reflectir Medusa observando a própria morte no exacto instante da sua ocorrência. O que ela vê é o próprio olhar horrorizado ao contemplar-se a si mesma, ao ver-se petrificar. Vê, tal como nós, o seu estertor de morte; vê, tal como nós, a sua cabeça solta esguichando sangue ao golpe da espada de Perseu. A imagem da própria cabeça é a imagem cristalizada do momento da própria morte na superfície côncava do escudo (é, à sua maneira, uma fotografia com tudo o que de morte a fotografia encerra, pois capta um momento único e irrepetível no espaço e no tempo). Mas a genialidade do jogo psicológico deste objecto-pintura reside num factor ainda mais perturbante – a representação do reflexo de Medusa no escudo é um auto-retrato de Caravaggio travestido de Medusa. A representação que o artista nos dá a ver de si próprio é a representação máxima do horror, da definitiva e absoluta vertigem do momento da morte. Representou no espelho, no escudo côncavo de Perseu, a imagem que viu de si no espelho real imaginando-se a morrer como Medusa. Esta obra é, por isso, um duplo espelho, real e mitológico. Esta duplicidade atravessa aliás toda a obra do artista que sempre usou para as suas composições pictóricas pessoas comuns, o “homem da rua” como modelo das personagens bíblicas e mitológicas. E olhando os seus quadros nunca as personagens nos surgem como figuras idealizadas e perfeitas, surgindo-nos antes como as pessoas comuns que foram, sob uma representação de luz também ela realista, modelada por uma pincelada próxima da absoluta perfeição técnica. Não é inédita em Caravaggio a auto-representação como decapitado. Em “David com a Cabeça de Golias” o jovem David agarra pelos cabelos a cabeça solta do corpo de um Golias cujas feições são as do próprio Caravaggio. David exibe-a, não com uma expressão triunfal ou de raiva, mas manifestando alguma compaixão pelo degolado. Alguns vêem nestas auto representações de Caravaggio manifestação de amargura derivada das atribulações de uma vida errante, canalha, que conheceu de perto o horror da morte, da dor e do confronto físico violento. Pela minha parte, acrescento a essa leitura outra lição importante que constitui um legado artístico não menos trágico: a representação de espelho que o auto-retrato do artista é, será sempre também uma representação do próprio artista a ver como os outros o verão após a sua morte.